Evando Mirra de Paula e Silva – Professor Titular da UFMG, ex-presidente do CNPq*
Mesa Redonda “Ciência é Cultura”, Comemoração 20 anos Ciência Hoje
Rio de Janeiro, 12/08/2002
A presença da ciência na cultura brasileira é tema vasto e controverso, gostaria de seguir aqui apenas um pequeno filamento dessa densa malha. Começaria lembrando Jorge de Lima. No primeiro dos XIV Alexandrinos, publicado em 1914, o poeta falava do futuro e do mais uma vez anunciado “desaparecimento da poesia”.
“Há muita gente, eu sei, que não gosta de versos.
Por que… não sei… talvez porque não queira;
Daí uma asserção de críticos diversos:
Morrerá no Porvir a poesia inteira.Eu me esteio a mim mesmo em pontos controversos:
A Ciência julgada austera e sobranceira
Pousa no fictício os pedestais emersos
Que sustêm uma bíblia eterna e verdadeira.Vede: a Química conta as moléculas; dita
A Mecânica as leis tendo por base a inércia;
Outros mundos além a Astronomia habita…Se mesmo o positivo é sonho e controvérsia
Nem Porvir, nem ninguém, coisa alguma desliga
A Ciência que sonha e o verso que investiga.”
Há muita coisa interessante nesses versos. É notável a observação sobre as bases fluidas do edifício científico, quando tantos ainda pretendiam que a ciência fundava-se na realidade já dada (como Saussure, queixando-se de que os outros já encontravam seus objetos prontos, enquanto a Lingüística…). Foi preciso o triunfo da Mecânica Quântica, vinte anos mais tarde, para se difundir a compreensão de que toda ciência constrói seu objeto, trabalha sobre o artificial, sobre o artefato. Como diria mais tarde Bachelard: “A ciência não corresponde a um mundo a descrever. Ela corresponde a um mundo a construir. A ciência realiza seus objetos, sem jamais encontrá-los prontos.” Ou como enfatizaria Heisenberg, o criador do famoso Princípio da Incerteza: “… a ciência da natureza não lida com a própria natureza, mas de fato com a ciência da natureza, tal como o homem a considera e descreve”.
Mas isso foi mais tarde. Jorge de Lima já o dizia, com graça e elegância, muito antes:
A Ciência julgada austera e sobranceira
Pousa no fictício os pedestais…
Os adjetivos convocados para respaldar a Ciência são interessantes. Os gregos utilizavam austerós para falar do vinho, quando era seco, rude. Sobranceiro se origina do latim superare, ter o ânimo forte para vencer as dificuldades e os revezes… Fictício, ficticius, também tem bela origem: vem do verbo fingo, propriamente “modelar na argila”, e daí “imaginar, fingir, inventar.” E pedestal, piedestallo, criado pelos arquitetos da Renascença, é o suporte de pedra que sustenta uma escultura. O suporte – pétreo – da escultura científica, lembra o poeta, é etéreo, imaginário…
A Química conta as moléculas… Como contá-las? São invisíveis, mínimas, sutilíssimas. Contá-las é um prodigioso ato da imaginação e do artifício.
Dita a Mecânica as leis tendo por base a inércia. Que maravilha! A Mecânica, ciência das forças e dos movimentos, tão concretos, funda-se em um princípio abstrato, sofisticado, cuja realização ninguém jamais viu, nem pode ver, pois é da ordem do ideal, do inexistente no mundo.
Outros mundos além a Astronomia habita… Jorge de Lima se alia aqui a um poeta mais antigo, vizinho do surgimento do método científico. Pois foi John Donne quem falou, em 1611, do desconcerto provocado pelo aparecimento da nova maneira de ver:
“E os homens livremente confessam que este mundo se esgotou,
Quando nos Planetas e no Firmamento
Buscam tantos mundos novos,
Vêem então que tudo está de novo pulverizado em Átomos,
Tudo está em Pedaços, toda coerência perdida.”
Mas voltemos ao Brasil e a 1914. Ou até mesmo antes. Pois a cultura fala através de muitas vozes e à voz de um poeta vamos somar a voz de um prosador, que o precedeu. Em 1869, Joaquim Manuel de Macedo, na deliciosa novela A Luneta Mágica, coloca nos lábios de Simplício a afirmação: “A verdadeira magia está nas maravilhosas realidades das ciências físicas”. E se nosso poeta, como Galileu, falava da pesquisa científica, nosso prosador é baconiano… “O poder humano é o poder da ciência” – diz o Simplício – e opera “… por meio de vidros e de cristais cuja concavidade encerra sobrenatural magia”. Para apresentar-nos em seguida seu amigo Reis, o tecnólogo, o novo Prometeu:
“E o que faz o Reis?… Reproduz os meios conhecidos, aperfeiçoa‑os e inventa novos para se fazer a paz e a guerra; a guerra, dando precisão, segurança às pontarias das peças de artilharia; a paz, oferecendo balanças e níveis de todas as qualidades … e além desses os mais perfeitos instrumentos para demarcação dos limites dos Estados; governa nos mares com as melhores bússolas; é senhor do sol e da lua, e de todos os planetas pelos mais fortes telescópios; conhece e domina os animais invisíveis pela força engrandecedora dos microscópios, vê o fundo tenebroso das minas, tem o cetro da física, o império da química, a soberania da eletricidade pela magia dos seus instrumentos, marca o tempo, prediz o calor e a chuva, e chama‑se Reis porque não é um rei; mas tem o poder de muitos reis.”
Paremos por aqui. Seria infindável a relação dos nossos poetas e prosadores que evocam os mistérios da ciência, em tons cambiantes entre o admirativo e o crítico, muitas vezes com notável acuidade. Permitam-me lembrar apenas mais uma dessas vozes, nos versos quase surpreendentes de Clarice Lispector:
Tudo o que existe é de uma grande exatidão.
Pena é que a maior parte do que existe
com essa exatidão
nos é tecnicamente invisível.
O bom é que a verdade chega a nós
como um sentido secreto das coisas.
Nós terminamos adivinhando, confusos,
a perfeição.
Sobre nossa cultura, e nela a ausência do fato científico, já tanto se falou, que textos como estes deveriam despertar em nós profunda perplexidade. Se com ironia é tratado o Reis, cujo “reproduz os meios conhecidos” soa tão familiar para os que conhecem as vicissitudes da tecnologia importada, o “aperfeiçoa‑os e inventa novos” evoca os ensaios de inovação tecnológica que começam a se tornar visíveis entre nós. O rigor epistemológico inscrito em versos como os de Jorge de Lima – datados, vamos repetir, do início do século passado – parece ainda mais desconcertante. Seria necessário que de fato a saga científica, mesmo limitada, descontínua, pouco percebida, estivesse presente, de alguma forma, em nosso itinerário de formação do País, de nossa alma, para que seu traço se manifestasse, com tanta acuidade, em nossa ficção.
Talvez seja de fato o caso. E talvez seja oportuno reconhecer a insistência teimosa da constituição da empreitada científica entre nós. É mesmo possível reencontrar sinais de muitos de seus episódios desde os tempos ainda da colônia. A partir da própria constatação de que, diferentemente do ocorrido em outros países de colonização européia, eram brasileiros os que primeiro fizeram pesquisa no Brasil.
A profunda transformação promovida por Pombal na Universidade de Coimbra, em 1772, teve implicações imediatas para o nosso país. A reforma, introduzindo ali os estudos científicos, contou com a participação decisiva do reitor, brasileiro, Francisco de Lemos Pereira Coutinho. Nos vinte anos que se seguiram, cerca de 430 brasileiros formaram-se em Ciências em Coimbra. Dentre eles se encontram os que empreenderam os primeiros estudos de nossa flora, de nossa fauna, de nossos minerais, de nossas populações primitivas. A primeira atividade científica significativa no país foi, dessa forma, protagonizada por brasileiros. São muitos, mas valeria a pena evocar pelo menos alguns deles.
Em 1780 o paulista Francisco José de Lacerda e Almeida e o mineiro Antônio Pires da Silva Pontes, vindos de Coimbra, uniram-se para “determinar com exatidão a posição dos rios e outros acidentes geográficos” das Capitanias do Norte e Centro-oeste. O “Diario da viagem pelas capitanias do Pará, Rio Negro, Matto-Grosso, Cuyaba, e S. Paulo, nos annos de 1780 a 1790” mostra o levantamento detalhado do Brasil e da América Meridional, uma descrição abrangente da Amazônia e do Pantanal, além da Carta Geográfica “dos rios das Amazonas e Solimões, Negro e Branco, da Madeira, Mamoré e Guaporé, Jaurú e Paraguay”.
Foi também o baiano Alexandre Rodrigues Ferreira, doutor em Filosofia Natural por Coimbra, quem realizou, ao longo de dez anos, extraordinária expedição científica pelo interior do Brasil. Partindo de Belém em 1783, explorou a ilha de Marajó, o Xingu, o Tapajós e o Tocantins, com sua equipe formada por um botânico e dois “artistas riscadores” (desenhistas). Subiu em seguida o Amazonas até Manaus. Atravessou o vale do rio Branco, subiu à fronteira da Guiana e percorreu Roraima. Deslocou-se para o alto Guaporé, adentrou os rios Aripuanã, Araras e Manicoré. Viajou às lavras de ouro da Serra de São Vicente e à Chapada dos Guimarães. Foi até o Forte de Coimbra e à Caverna do Inferno. A viagem assumia muitas vezes dimensões épicas. Ao explorar o Madeira levava 200 índios em canoas e 500 alqueires de farinha. Trabalhador compulsivo, elaborou nessa etapa 23 memórias, quatro diários, duas descrições, um extrato e um tratado histórico. Ao percorrer o rio Mamoré, levava 16 pedestres, 26 remeiros, seis canoas, 40 armas de fogo, 16 facões e “meia arroba de pólvora, com bala e chumbo competente”…
Quando encerrou o périplo, em 1792, havia armazenado tesouro científico incalculável, compreendendo herbários, espécimes da fauna, fósseis e minerais. Seus escritos cobriam a agricultura, medicina, geografia, história e economia, e traziam preciosas informações antropológicas sobre populações nativas. Descreviam o pirarucu, o peixe-boi, tartarugas, jacarés e estranhos mamíferos do Grão-Pará. A iconografia, belíssima, retratava os índios, suas armas, seus instrumentos e ornatos; revelava fortalezas e povoações, cachoeiras e rios. Sua obra, contida na “Viagem Philosophica”, na “Memoria Antropológica”, no “Diario”, é um dos legados mais brilhantes do período colonial.
Frei José Mariano Conceição Veloso revelou ao mundo a flora da Mata Atlântica e se tornou um dos mais respeitados cientistas de seu tempo. Nascido em São José del Rey, primo de Tiradentes, José Mariano iniciou os estudos em Minas e os completou no Rio de Janeiro. Seu talento revelou-se muito cedo. Com suas pesquisas de campo, entre 1780 e 1790, descreveu 1700 plantas desconhecidas na monumental Flora Fluminensis, talvez o mais completo trabalho científico até hoje publicado por um brasileiro. Dizem que Frei Veloso se encontrava sempre com o primo Tiradentes, renomado pelo uso que fazia das plantas medicinais…
Levado a Lisboa, Frei Veloso permaneceu longo tempo na metrópole. Recebido na Academia Real de Ciências, tornou-se professor de História Natural, assumiu a famosa tipografia do Arco do Cego e tornou-se diretor literário da Imprensa Régia. Cientista consagrado, Frei Veloso retornaria ao Brasil com D. João VI. Aqui editou O fazendeiro do Brasil, enciclopédia de 11 volumes, tratando do fabrico do açúcar até o cultivo de especiarias e preparo do leite e derivados. E teria ainda outra tarefa de grande envergadura, na organização do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Tem bela história também a pesquisa geológica. Em 1798 o naturalista mineiro José Vieira do Couto, graduado em Coimbra, explorou nossas montanhas e publicou sua “Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, seu território, clima e produções metálicas”. Martim Francisco Ribeiro de Andrada iniciou outra vertente, relatada nos “Jornais das viagens de 1803 a 1804” e “Diário de uma viagem mineralógica pela província de São Paulo, no ano de 1805”. Empreendeu em seguida uma expedição famosa, em companhia do irmão José Bonifácio de Andrada e Silva, que retornava ao país depois de longos anos na Europa. A “Digressão econômico-metalúrgica pelas serras e campos do interior da bela e bárbara província de São Paulo”, publicada em 1820, é um documento precioso. Traz observações minuciosas sobre gnaisses, granitos e “xistos argilosos” de Paranapiacaba; minérios de Santo Amaro, grés da serra de Jaraguá, recortados auríferos e recobertos de aluviões, metais e xistos de Japi, São Roque e Sorocaba; hematita e magnetita de Pirapora; calcáreos de Parnaíba, granito de Itu.
O sucesso do político oculta o brilho do pesquisador, pois de fato José Bonifácio de Andrada e Silva representa a presença entre nós de um cientista internacional de altíssimo quilate. Nascido em Santos em 1763, José Bonifácio completou seus primeiros estudos no Rio de Janeiro e freqüentou em seguida a Universidade de Coimbra. Recebido em 1789 na Academia de Ciências de Lisboa, realizou longa missão pelo continente europeu. Na França foi discípulo de Hauy e tornou-se membro da Sociedade Filomática. Na Alemanha conviveu com Werner, Lampadius e Humboldt. Cursou a Escola de Minas de Freiberg e trabalhou nas lavras da Saxônia e do Tirol. Foi recebido na Sociedade das Ciências Naturais de Berlim e na Sociedade Mineralógica de Iena. Na Itália conheceu Volta e trabalhou em Pádua, Turim e Pávia. É ousado: sua “Memória sobre a constituição geológica dos Montes Eugêneos” contraria sábios como Ferber, Fortis e Spallanzani. Trabalhou com Bergman em Upsala, tornou-se membro da Academia de Ciências de Estocolmo e percorreu as minas da Suécia, Noruega e Dinamarca. Quando regressou a Portugal, em 1800, a Universidade de Coimbra instituiu para ele a cátedra de Metalurgia e tornou-se Intendente-Geral das Minas e Metais do Reino. Dentre seus trabalhos nesse período teve grande repercussão o anúncio, no Journal de Physique de Paris (1797-1800), de doze minerais por ele descobertos. Em sua homenagem, o geólogo americano James Dana introduziria, em 1868, o nome andradita para as variedades calcioférricas de granadas.
Enciclopedista, manejando onze idiomas, a atividade de José Bonifácio abrangia a mineralogia, geologia, química, mineração, metalurgia, climatologia, botânica, silvicultura, hidráulica e obras públicas. Dentre outras homenagens, foi eleito membro das Academias de Ciências em Copenhague e Turim, das Sociedades Werneriana e Lineana de Londres, da Sociedade de Ciências Filosóficas da Filadélfia e da Sociedade Geológica de Ciências da França. A partir de 1820 José Bonifácio se viu absorvido pelas atividades políticas. Assumindo as funções de Ministro do Interior e dos Negócios Estrangeiros do Reino, iniciou a trajetória que o distinguiria como “Patriarca da Independência”.
É reveladora a Representação encaminhada por José Bonifácio à Assembléia Constituinte do Império, onde defendia a abolição do trabalho escravo, que considerava a causa maior dos grandes males da sociedade brasileira. Nesse documento fazia uma eloqüente defesa dos recursos naturais, manifestando preocupações ambientais pouco comuns no espírito do tempo. “A Natureza fez tudo a nosso favor”, dizia, “nós porém pouco ou nada temos feito a favor da Natureza. Nossas terras (…) são mal cultivadas, porque o são por braços indolentes e forçados. Nossas numerosas minas, por falta de trabalhadores ativos e instruídos, estão desconhecidas ou mal aproveitadas. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão-se escalvando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil, em menos de dois séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos áridos da Líbia. Virá então este dia (…), em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos”.
É curioso como o trabalho desses grandes pioneiros caiu no esquecimento. Euclides da Cunha é dos poucos a registrar sua surpresa, em Contrastes e Confrontos: “a simples contemplação dos últimos dias do regime colonial, nas vésperas da independência, revela-nos as figuras esculturais de alguns homens que hoje mal avaliamos, (… ) são hoje uns quase anônimos. Entretanto, os estóicos astrônomos, que os grosseiros agulhões mal norteavam nas espessuras nunca percorridas, sem o arsenal suntuoso dos atuais aparelhos, determinaram as coordenadas dos mais remotos pontos e desvendaram muitos traços proeminentes da nossa natureza.”
A implantação das instituições de pesquisa no Brasil é mais conhecida. Houve iniciativas isoladas, como a instalação no Rio de Janeiro, em 1792, da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, primeira escola de engenharia das Américas. Ela daria origem à Academia Real Militar, mais tarde Escola Central. Criou-se também, em 1797, um Jardim Botânico na cidade de Belém. Com a vinda da família real começariam a ser instalados de forma mais sistemática institutos de investigação científica. O Real Horto, hoje Jardim Botânico, surgiu em 1808 para aclimatar sementes e cultivar especiarias, e tornou-se um centro de estudos e experimentação. Foram criados o Museu Nacional, a Academia Naval, a Biblioteca Nacional, as Faculdades de Medicina do Rio e da Bahia.
O estudo da flora e da fauna despertou também o interesse de muitos pesquisadores europeus, cuja vinda se intensificou a partir de 1816. Saint-Hilaire, Johann Spix, von Martius, Charles Darwin, Alfred Wallace, Henry Bates, Emanuel Liais, Heinrich von Langsdorff, Peter Lund, Wilhelm von Eschwege e outros, além de retratar os exóticos hábitos dos nativos e o exuberante mundo natural, propagaram inquietações científicas da época junto à pequena parcela culta da população.
No império prosseguiu a criação de instituições – como o Observatório Nacional e a Comissão Geológica do Império – e emergiram sucessos individuais ou coletivos de pesquisa. O grande animador da ciência no império era o próprio Imperador. Estudioso e bem-informado, Pedro II era figura obrigatória nos eventos científicos. Mas estava quase sozinho. A elite brasileira não havia descoberto o papel que a pesquisa começava a assumir no mundo. Acusado de “sofrer de mania científica” (Joaquim Murtinho), Dom Pedro teria poucos aliados, ou enfrentaria resoluta oposição, como nos embates pela fundação – e manutenção – da Escola de Minas de Ouro Preto, duramente combatida no Parlamento.
Valeria a pena evocar alguns casos singulares. Joaquim Gomes de Souza, o Souzinha, foi um pioneiro na Matemática. Nascido no Maranhão, em 1829, aos quatorze anos desembarcou no Rio de Janeiro e cinco anos depois apresentava sua tese de doutoramento na Academia Militar, tratando da estabilidade de sistemas de equações diferenciais. Em 1850, Guanabara, “revista mensal artística, científica e literária” de Araújo Porto Alegre, Gonçalves Dias e Manuel de Macedo, publicou sua “Resolução das Equações Numéricas” e sua “Exposição Sucinta de um Método de integrar Equações Diferenciais Parciais por Integrais Definidas”. Souzinha, em seguida, embarcou para a Europa e apresentou à Academia de Ciências de Paris a “Dissertação sobre o modo de indagar novos astros sem auxílio das observações diretas” e os “Métodos gerais da integração da equação diferencial do problema do som”, que foram examinadas por matemáticos prestigiosos como Liouville, Lamé e Cauchy. Em 1856 apresentou à Royal Society, em Londres, memórias sobre a propagação dos movimentos nos meios elásticos, uniformização dos métodos analíticos e aplicações para a Astronomia e a Botânica. Souzinha faleceria em Londres, aos 34 anos.
Do ponto de vista coletivo o empreendimento científico mais notável foi certamente o da chamada Escola Tropicalista Baiana. O movimento surgiu à margem da Escola Oficial de Medicina da Bahia que, nas palavras de Gilberto Freyre, “não lhes abriu suas douradas e sagradas portas: deixou-os ao relento. Mas era o que lhes convinha: fazer ciência experimental e de campo”. Já seria muito, mas foi muito mais do que isso. Iniciado com a detecção e o combate às epidemias de febre amarela (1849) e de cólera (1855), o movimento estruturou-se nas reuniões de alguns médicos em Salvador, para estudo de casos e discussão dos avanços da parasitologia e da microscopia. Animada por Otto Wucherer, John Ligertwood e José Francisco da Silva Lima, a Escola Tropicalista Baiana chegou a contar com cerca de quarenta participantes. Interessados em fisiologia e hematologia, introduziram métodos estatísticos e novas abordagens na prática médica, fundadas na análise química e em métodos quantitativos. No processo, transformaram o ensino da Medicina, produziram pesquisa de qualidade e criaram a literatura científica brasileira com a Gazeta Médica da Bahia. Assim, antes mesmo dos sucessos do Butantã e do Instituto Soroterápico de Manguinhos na virada do século, a medicina tropical e a investigação científica já engendravam uma pesquisa biomédica que teria longo fôlego e se traduziria por atividade cientifica de impacto internacional.
Nas primeiras décadas do século XX criaram-se institutos para Agricultura, Biologia Aplicada, Medicina Tropical, Geologia e Engenharia. Neles, como atividade quase clandestina, começou a se desenhar uma vertente acadêmica. Embora raramente encontrasse clima acolhedor, a pesquisa já se fez ali em sintonia com as tendências científicas de seu tempo. Foi o que ocorreu, por exemplo, no Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro. A par das realizações técnicas, algumas notáveis, como o uso do álcool nos motores a combustão, começou também ali pesquisa moderna em Física, com os estudos de Bernard Gross sobre raios cósmicos. Na Faculdade Nacional de Filosofia, Joaquim da Costa Ribeiro realizaria trabalho de fôlego com a descoberta do Efeito Termodielétrico.
A criação da USP, em 1934, trouxe cientistas da Europa que promoveram aqui avanços significativos. Na Física, por exemplo, Gleb Wataghin e Giuseppe Occhialini não só formaram brasileiros talentosos, como Mario Schenberg e Marcelo Damy, quanto abriram a trilha para a descoberta do méson π, em que o jovem César Lattes teve participação fundamental, e que valeu ao inglês Cecil Powell o Premio Nobel da Física de 1950.
A criação do CNPq, em 1951, foi um divisor de águas. Começavam ali as estratégias para que a prática científica viesse a ultrapassar, na expressão de Anísio Teixeira, a fase “do milagre e do heroísmo”. Em seu depoimento no Congresso, em 1968, Anísio insistia na necessidade imperiosa de se institucionalizar aqui a investigação científica, reafirmando que nossas instituições de ensino superior só se transformariam em verdadeiras universidades quando, por meio da pesquisa, passassem a participar da produção da cultura que transmitem.
Vencemos aquele desafio. A prática da pesquisa está institucionalizada nas nossas universidades e nos nossos institutos. Apesar de todas as dificuldades, e de tudo o que resta a fazer, o Brasil já faz parte das nações que contribuem para a construção do acervo de conhecimento. O volume e a qualidade dessa produção são atestados por todos os indicadores internacionais. Mais do que isso: da atividade isolada dos pioneiros, até a apropriação coletiva da produção de conhecimento no quotidiano de nossas instituições, a diferença não é apenas de grau, mas de natureza.
Desta trajetória falam as “Crônicas de Sucesso” lançadas por Ciência Hoje. As Crônicas compõem um mosaico multiforme e de ampla varredura. Ciências básicas, tecnologias de grande impacto, instituições de ponta, explorações em alto mar, investigações nas estrelas, descobertas arqueológicas, entre tantas outras, falam ali de um espectro amplo de conquistas. São testemunhas da determinação e do talento, é certo, mas são também indicadores da grande aventura coletiva e da metamorfose na cultura científica que se operou entre nós.
Se assim é, por que persistimos em negá-lo? Que razões levam a sustentar, contra as evidências, que não se fez e não se faz ciência, que nossa cultura permanece imune ao fato científico, impermeável a suas reverberações?
A primeira razão, óbvia, é que queremos mais e melhor. E o queremos mais amplamente difundido e incorporado ao ethos nacional. Mas a consciência das limitações não explica a dificuldade em se reconhecer o que se conquistou, nem a relutância em perceber a vitalidade de seu crescimento.
Por que não vemos? Talvez o desconforto em conviver com a sofisticada produção simbólica em meio a uma realidade dura e injusta desempenhe nisso algum papel. Talvez a dolorosa consciência das desigualdades imprima um sentimento de urgência que se acomode mal à lentidão com que essa cultura amadurece e frutifica. Talvez nos falte o mito da origem para legitimar nosso empreendimento científico. Talvez a obsessão do descompasso perturbe a nitidez do olhar.
“Tristes ainda seremos por muito tempo”, ironizava Cecília Meireles, pois
Ciência, amor, sabedoria,
tudo jaz muito longe, sempre
– imensamente fora do nosso alcance.
E compartilhava conosco sua perplexidade:
Desmancha-se o átomo,
domina-se a lágrima,
já se podem vencer abismos
– cai-se, porém, logo de bruços e de olhos fechados,
e é-se um pequeno segredo
sobre um grande segredo.
Não é necessário persistir nisso. A institucionalização e a valorização ética do conhecimento fazem parte da constituição da cultura de todas as sociedades modernas. Este processo, no Brasil como em outros países que dele participaram de forma incerta, costuma ser rotulado “modernização conservadora”, pois conduzido muitas vezes por segmentos isolados, sem comprometimento maior e transformação mais profunda da sociedade. Mas a constituição de nossa base científica mudou as nossas possibilidades. E se a “modernização conservadora” limitou a ressonância da pesquisa científica em nossa cultura, o estágio em que nos encontramos permite sonhar com uma difusão mais ampla e coletiva, que confira, de vez, direito de cidadania à questão científica no Brasil.
Não é, porém, tarefa fácil. As dificuldades da sociedade brasileira, as insuficiências do sistema de educação, o conflito do arcaico e do moderno, convidam facilmente à incompreensão e ao desencontro.
A situação em que freqüentemente nos vemos colocados faz lembrar o relato de Moacyr Scliar em A Guerra no Bonfim. A turma de Joel joga contra a turma da João Telles, na Avenida Cauduro. O jogo começa às três da tarde. São quatorze de cada lado, mais Miguel que, por ser coxo, não é contado. Às sete da noite as sombras invadem o local do embate, as mães começam a chamar para o jantar. Joel recolhe a bola e diz que a partida terminou. “Covardes”, brada uma voz, das trevas, “foi combinado que o jogo era de trinta, ainda está 27 a 18!”
“O jogo continua, turma!”, grita Joel. E vem então a cena tão familiar: Na mais completa escuridão a partida prossegue. Procuram adivinhar onde está a bola, correm na direção que pensam ser a meta, dão botinadas em quem acreditam seja o inimigo, tentam passar a bola para aqueles que imaginam ser o companheiro, o ar enche-se de urros, tropeçam, chutam o chão… Ah, Brasil…
É também por isso que Ciência Hoje tem para nós tamanho significado. Pioneira ao trazer para o público brasileiro as questões científicas, informando e convidando ao debate de temas essenciais de nosso tempo, Ciência Hoje tem sido ainda a própria crônica da transformação científica e tecnológica brasileira. Ao criar pontes, múltiplas e de mão dupla, ensinando e aprendendo, Ciência Hoje tem lugar estratégico na construção do terreno comum, inteligente e crítico, necessário para que se projete luz nesses embates. E o faz como processo permanente, recorrente e interminável, pois bem sabemos que toda luz projeta sempre sombras em algum lugar.
Jorge de Lima, em seu belo soneto, fala da cultura, da poesia, da ciência e do futuro. Alfredo Bosi nos lembra que o verbo colo, de que a palavra cultura se origina, significa eu moro, eu ocupo a terra, e, por extensão, eu trabalho, eu cultivo a terra. O particípio futuro culturus, o que se vai trabalhar, o que se quer cultivar, gerou cultura, como conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que compõem um espaço de coexistência. Em cultura, a terminação –ura anuncia a idéia de porvir e de movimento em sua direção. Tem razão Jorge de Lima. É isso que estamos trabalhando, é isso que queremos cultivar. Ciência é cultura, e esse espaço se constrói. E, nessa construção, entre sonho e controvérsia, com ele também temos certeza: coisa alguma desliga a ciência que sonha e o verso que investiga.
*Engenheiro de Materiais, Professor Emérito da UFMG, Diretor da Academia Brasileira de Ciências e ex-Presidente do CNPq.
E-mail: evandomirra@gmail.com



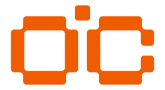


Deixe seu comentário